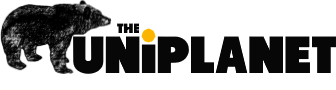Viagem ao Tecto do Mundo de Joaquim Magalhães de Castro

Viagem ao Tecto do Mundo –
O Tibete desconhecido
Joaquim Magalhães de Castro
Editorial Presença
Colecção Volta ao Mundo
Nº de páginas: 296
16,66 €
“Viagem ao Tecto do Mundo – O Tibete Desconhecido” relata-nos a viagem inesquecível que Joaquim Magalhães de Castro fez nos anos 90 ao coração do Tibete, o Ngari. Com início na capital, Lhasa, esta intrépida aventura durou cerca de mês e meio e atravessou, em direcção a oeste, quase 2000 kms dalgumas das paisagens mais inóspitas, magníficas e sagradas do planeta.
De mochila às costas, viajante clandestino em algumas das regiões por onde passou e muitas vezes transportado nas caixas de camiões, o autor conheceu o Tibete mais recôndito e autêntico, o seu povo, a sua cultura, a grandiosidade dos seus palácios, templos e mosteiros e a sua profunda religiosidade.
PREFÁCIO

País das Neves Eternas, Tecto do Mundo ou Shangri-La são algumas das expressões mais comuns quando queremos referir-nos ao misterioso e esotérico Tibete. Porém, a verdade é que tais palavras se revelam insuficientes para definir a grandiosidade e amplitude desta extensão de terra nos confins dos Himalaias.
Fonte de fascínio para o mundo exterior, o Tibete esteve «apartado» do Ocidente pelo menos até ao início do século XVII, altura em que jesuítas portugueses instalados em Goa, incitados pelos rumores de que ali existiriam comunidades cristãs, abriram o caminho a uma série de exploradores e aventureiros que apenas quase três séculos mais tarde ousariam partir em busca das riquezas materiais e espirituais dessa nação.
Lhasa, a capital, era conhecida como a «Cidade Proibida», tal era a dificuldade em obter autorização para a visitar, mas, quando, em meados da década de 1980, as suas portas se abriram ao turismo, o Tibete deixou de ser o reino escondido que alimentava os sonhos dos mais curiosos. Mais de 30 anos de ocupação chinesa daquele planalto estratégico, na sequência da implantação da República Popular da China em 1950, e o exílio de 100 mil tibetanos, entre os quais o seu líder espiritual, o Dalai Lama, deixaram marcas indeléveis no legado cultural e histórico. A ocupação levou também, inevitavelmente, a uma chegada em massa de migrantes chineses. Acessível e tolerante, o povo tibetano deixou-se permeabilizar pela influência e cultura chinesas, perdendo muita da sua graça e originalidade. Todavia, alguns observadores comparam o momento actual à renascença tibetana do século XI, quando o budismo voltou a ser instaurado no país depois de 2 séculos de perseguições. Lentamente, esta cultura milenar começa a reconstruir o seu mundo.
Um pequeno passeio pela Praça de Barkhor ou uma visita a Jorkhang, o mais sagrado dos templos, é suficiente para constatarmos que a tentativa de edificar um «admirável mundo novo» no planalto tibetano esbarrou contra a espantosa fé dos seus habitantes. Com um património de mosteiros notáveis, paisagens de alta montanha estupendas, extensos lagos cristalinos e rotas de peregrinação lendárias, o Tibete continua a ser uma das regiões mais belas do planeta.
E se para o viajante atento qualquer deslocação ao Tibete será, simultaneamente, uma experiência inesquecível e perturbante, para um português uma viagem destas pode assumir um carácter muito especial. Digo isto porque, em certa medida, podemos considerar que o Tibete foi um dos últimos destinos dos Descobrimentos, apesar de n’Os Lusíadas se valorizar uma nação de marinheiros intrinsecamente ligada ao mar e ignorar os que se aventuravam pelo interior dos continentes americano, africano e asiático, como foi o caso dos jesuítas, que desafiaram os Himalaias.
Em 1624, após uma duríssima travessia através dos «desertos de neve» que separam a Índia do Tibete, o padre António de Andrade chegou a Tsaparang, a capital do reino tibetano de Guge. Efectuaria nova viagem dois anos mais tarde, desta feita acompanhado por Manuel Marques. Andrade foi o primeiro ocidental a visitar o Tecto do Mundo, na altura associado ao mítico reino do Cataio, onde chegou a construir uma igreja e fundou uma missão católica que funcionaria até 1640. O seu primeiro relato, intitulado Novo Descobrimento do Gram Cathayo ou Reinos do Tibet, foi publicado em 1626 e rapidamente traduzido nas principais línguas europeias.
António de Andrade, Francisco de Azevedo, João Cabral e Estêvão Cacela, verdadeiras e únicas autoridades em matéria de tibetologia até à segunda metade do século XVIII, também deixaram registos das suas viagens. Durante mais de um século, entre 1624 e 1746, a Europa nada mais soube sobre o Tibete para além daquilo que os portugueses lhe transmitiram; não obstante, quando hoje se fala do estudo e de conhecimentos pioneiros desta região do planeta, são os nomes de Desideri Ippolito (jesuíta italiano que viveu no Tibete um século depois de António de Andrade), Sven Heiden ou Francis Younghusband (respectivamente, explorador sueco e militar inglês, ambos do início do século XX) os mais referidos, e nunca os dos pioneiros portugueses.
Aos nomes de Andrade, Marques, Azevedo, Cabral e Cacela podemos juntar muitos outros praticamente desconhecidos: Diogo de Almeida, Gonçalo de Sousa, Francisco Godinho, António Pereira, António da Fonseca, Manuel Dias, Félix da Rocha, entre outros, ficarão para sempre ligados à história do Descobrimento do Tibete pelos europeus. Para estes homens, movidos por uma fé profunda, a empresa tibetana era a resposta a um apelo divino numa região desconhecida que tinha o valor que a Terra Prometida tem para os judeus. Já o profeta Isaías falara da existência de «uma nação que vive numa montanha muito alta de onde correm rios poderosos», descrição que encaixa na perfeição com o cenário natural do monte Kailash e do lago Manasorovar, que, juntamente com a cidade de Tsaparang, constitui o cerne geográfico deste livro, inspirado nos passos e relatos destes homens.
INTRODUÇÃO
Quando, no mês de Março de 2008, a islandesa Björk gritou «Tibet! Tibet!» após cantar o tema Declare Independence num espectáculo em Xangai, certamente que não era fazer política o que pretendia, nem tão-pouco futurologia. O certo é que a sua provocação foi premonitória e dias depois, em Dharamsala, na Índia, sede do governo tibetano no exílio, tinha início a histórica «Marcha de Regresso ao Tibete», evocando a revolta contra a violenta anexação deste país pela China, em 1959, cujo resultado se traduziu na eliminação de uma parte significativa da sua população.
Ao mesmo tempo, uma iniciativa paralela, liderada por monges, era reprimida em Lhasa, capital do Tibete, dando origem a uma série de confrontos que contabilizaram dezenas de mortes logo nos primeiros dias. Com o exército nas ruas, as autoridades chinesas recorreram à táctica utilizada aquando das manifestações pró-independentistas de 1987-1989, incentivando os «rebeldes» a entregarem-se, evitando assim o esperado «castigo».
A ousadia de Björk ter-lhe-á custado, quando muito, a interdição de actuar na China nos próximos anos. De resto, nada que não tenha já sido visto: sempre que se aproxima uma data ou acontecimento susceptível de provocar reacções e animosidades — como foi o caso dos Jogos Olímpicos de Pequim — surgem as restrições. E se a situação se descontrola, encerram-se fronteiras pelo tempo que for necessário. Foi assim em 1987 e assim é ainda hoje.
Já para os tibetanos, as consequências são mais dolorosas. Várias organizações de direitos humanos têm vindo, ao longo dos anos, a denunciar detenções arbitrárias por motivos políticos, tortura e até execuções. Desde a vaga de protestos ocorrida em 1987, por exemplo, terão morrido pelo menos 60 pessoas; para além disso, é consensual que «o direito à autodeterminação, à liberdade de expressão, de reunião e de livre circulação» mais não é do que palavras escritas num papel no que à denominada Região Autónoma do Tibete diz respeito. Desde a ocupação chinesa que a nação tibetana se adaptou às contingências políticas, incapacitados de evitar os riscos da progressiva descaracterização. Contudo, o Dalai Lama é uma referência que persiste e um retrato do carismático líder é o melhor presente que se pode dar a um tibetano.
Funciona como um salvo-conduto, um bem útil a quem viaja, efectivamente, naquela que chega a ser, por vezes, a mais inóspita das paisagens.
Mas não se julgue que os tibetanos são aquelas adoráveis criaturas que muitos gostam de descrever. Há tibetanos e tibetanos e, apesar de António de Andrade, no seu tempo, falar de «gente valorosa, dada a guerras em que contínuo anda exercitada», não esquecendo também de salientar a sua «bondade e a disposição que têm para receber todo o bem», dizendo até que «há meses que vivo nesta terra, nunca até hoje soube de uma só briga, nem desavença, nem que pessoa alguma esteja em ódio com outra», a realidade, hoje, é outra: as coisas mudaram muito desde que o jesuíta, que lamentava não saber tibetano suficiente para melhor «poder pregar e converter almas», emitiu tais juízos de valor. Ao longo das diversas viagens que efectuei no planalto tibetano, assisti a muitas brigas e manifestações de ódio que, em certas ocasiões, chegaram mesmo a sobrar para mim, simplesmente porque eu era o intruso estrangeiro. Essa até foi uma barreira fácil de transpor, comparada com os empecilhos burocráticos que, curiosamente, tiveram mais vezes rosto tibetano que chinês.
A mais longa e aventurosa dessas viagens teve lugar no ano de 1992 e é dela que trata, essencialmente, este livro, se bem que os primeiros capítulos se reportem a uma viagem efectuada dois anos mais tarde e apenas a uma parte desse Tibete, antes extensivamente percorrido. Foi nessa posterior viagem que tive o cuidado de me munir de uma máquina fotográfica para poder registar também as imagens, coisa que não tinha feito anteriormente.
Veja a aventura de Joaquim Magalhães de Castro na série documental
“Himalaias: Viagem dos Jesuítas portugueses”
“Himalaias: Viagem dos Jesuítas portugueses”
Comentários